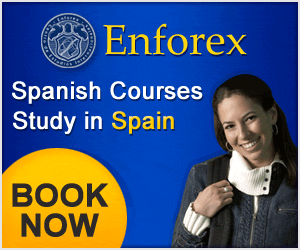Dagon – H.P Lovecraft
Dagon
H.P Lovecraft
Escrevo isso debaixo de uma tensão mental considerável já que esta noite poderei não estar mais vivo. Se um centavo e no final de meu suprimento da droga que, só ela, consegue tornar minha vida tolerável, já não consigo suportar a tortura e irei atirar-me dessa janela de sótão na rua esquálida lá em baixo. Não pensem que minha dependência da morfina tenha-me tornado um fraco ou degenerado. Quando houverem lido estas páginas rabiscadas às pressas, poderão imaginar, mesmo sem nunca perceber plenamente, por que preciso do olvido ou da morte.
Foi num dos trechos mais abertos e pouco freqüentados do vasto Pacífico que o paquete onde eu era comissário de bordo foi capturado pelo vaso de guerra alemão. A grande guerra estava, então, em seu início, e as forças marítimas do bárbaro ainda não haviam mergulhado por completo em sua posterior degradação. Sendo assim, nossa embarcação foi tomada como legítima presa, enquanto nós, membros de sua tripulação, fomos tratados com toda a equidade e consideração que nos eram devidas como prisioneiros navais. Era tão liberal, de fato, a disciplina de nossos captores, que cinco dias depois de nos tomarem, consegui escapar, sozinho, num pequeno barco equipado com água e provisões para muito tempo.
Quando enfim me vi livre e à deriva, não tinha muita noção de minha localização. Como nunca havia sido um navegador experiente, eu só podia imaginar, vagamente, pelo sol e as estrelas, que estava um pouco ao sul do Equador. Da latitude eu nada sabia, e não havia ilha nem linha costeira à vista. O tempo manteve-se firme e durante dias sem conta eu vaguei sem destino debaixo de um sol escaldante, esperando a passagem de algum navio ou ser atirado às praias de alguma terra inabitável. Mas não surgiu navio nem terra e comecei a me desesperar em minha solidão sobre a ondulante vastidão de interminável azul.
A mudança aconteceu enquanto eu dormia. Seus detalhes eu jamais saberei, pois, embora agitado e povoado de sonhos, tive um sono contínuo. Quando afinal despertei, descobri-me meio tragado pela extensão lamacenta de um infernal lodo negro que se estendia à minha volta em monótonas ondulações até onde minha vista alcançava e onde, a certa distância, estava enterrado meu barco.
Embora se possa perfeitamente imaginar que minha primeira sensação seria de espanto com uma transformação tão prodigiosa e inesperada de cenário, eu, na verdade, fiquei mais horrorizado do que espantado, pois havia no ar e no solo putrefato um caráter sinistro que me arrepiou até o âmago de meu ser. A região toda fedia com as carcaças de peixes apodrecidos e outras coisas menos descritíveis que eu vi projetadas da lama abjeta da interminável planície. Talvez eu não devesse esperar transmitir em meras palavras a indizível repugnância que pode existir num silêncio absoluto e numa imensidão estéril. Não havia nada ao alcance do ouvido e da visão, salvo uma vasta extensão de lodo preto, mas ainda assim o caráter absoluto do silêncio e a homogeneidade da paisagem me oprimiram com um medo nauseante.
O sol ardia no alto de um céu sem nuvens que me parecia quase negro em sua impiedade, com se refletisse o pântano escuro que tinha embaixo de meus pés. Arrastando-me para dentro do barco encalhado, percebi que apenas uma teoria poderia explicar minha situação: por algum tipo de erupção vulcânica sem precedentes, parte do leito do oceano devia ter sido impelida para a superfície, expondo regiões que durante incontáveis milhões de anos ficaram submersas debaixo de profundezas aquáticas imensuráveis. Era tão grande a extensão da nova terra que se elevava por baixo de mim, que não consegui captar o mais tênue ruído do oceano, por mais que forçasse os ouvidos. Também não havia qualquer ave marinha para pilhar as coisas mortas.
Durante muitas horas, eu fiquei sentado, pensando e ruminando, no barco que estava caído de lado e produzia um pouco de sombra à medida que o sol ia seguindo seu curso no céu. Com o avanço do dia, o chão foi ficando menos pegajoso, indicando que ficaria seco o bastante para permitir que andasse sobre ele dentro de pouco tempo. Dormi muito pouco naquela noite e, no dia seguinte, preparei um farnel com água e comida para uma excursão terrestre em busca do mar desaparecido e de um possível resgate.
Na terceira manhã, verifiquei que o solo já estava bem seco e permitiria que se caminhasse sem problemas sobre ele. O cheiro de peixe era enlouquecedor, mas eu estava concentrado demais em coisas sérias para me importar com desgraça tão pequena, e parti ousadamente para um destino incerto. Caminhei a duras penas durante o dia todo na direção oeste, guiado por um outeiro distante que se destacava em altura dos outros que existiam no deserto acidentado. Acampei naquela noite, e, no dia seguinte, segui avançando para o outeiro, embora aquele objeto parecesse estar pouca coisa mais perto do que da primeira vez em que o vira. Na quarta noite, atingi a base do monte, que se mostrou muito mais alto do que parecera à distância. Um vale interposto destacava seu perfil da superfície geral. Exausto demais para subir, dormi à sombra da colina.
Não entendo por que meus sonhos foram tão agitados naquela noite, mas, antes da curva fantasticamente acentuada da lua minguante ter-se erguido muito alto acima do lado oriental da planície, acordei suando frio, decidido a não me deixar adormecer de novo. As visões como as que havia tido eram demais para suporta-las de novo. E sob o brilho do luar, percebi como foram insensatas as minhas caminhadas diurnas. Sem o ardor do sol escaldante, minha jornada teria-me custado menos energia. Agora, enfim, eu me sentia perfeitamente capas de realizar a escalada que me havia intimidado ao entardecer. Apanhei então o farnel e encaminhei-me para a crista da elevação.
Já tive a oportunidade de mencionar que a monotonia constante da planície ondulada era-me uma fonte de impreciso horror, mas creio que meu horror ficou maior quando alcancei o cume do monte e olhei para o outro lado, para um imenso vale ou canhão cujos recessos negros a lua ainda não se havia erguido o suficiente para iluminar. Senti-me no limiar do mundo, olhando, por sobre a borda, para um caos insondável de escuridão perpétua. Em meio a meu terror, perpassaram curiosas reminiscências do “Paraíso Perdido” e da tenebrosa ascensão de Satã pelos reinos informe das trevas.
A medida que a Lua foi subindo ao céu, pude notar que as encostas do vale não eram tão perpendiculares quanto eu imaginara. Saliências e afloramentos de rocha forneciam apoios perfeitos para uma descida, além de que, cerca de trinta metros abaixo, o declive tornava-se bastante ameno.
Impelido por um impulso que não consigo precisar, fui descendo com dificuldade pelas rochas até parar na encosta menos íngreme abaixo, de onde fitei as profundezas estígias onde nenhuma luz jamais penetrara.
De repente, minha atenção foi traída por um objeto enorme e singular na vertente oposta erguendo-se abruptamente a cerca de cem jardas à minha frente, um objeto de brilho esbranquiçado sob os raios da Lua ascendente. De início imaginei que se tratasse de uma simples rocha gigantesca, mas estava pouco consciente de que seu contorno e sua posição não eram uma obra puramente natural. Um exame mais de perto encheu-me de sensações que não consigo exprimir, pois, apesar de seu tamanho imenso e sua posição num abismo que ficara escondido no fundo do mar desde a juventude do mundo, percebi que o estranho objeto era um monólito bem moldado cujo vulto maciço havia conhecido o artesanato e, talvez, a adoração de criaturas vivas e pensantes.
Pasmo e assustado, mas não sem um certo frêmito de prazer do cientista ou do arqueólogo, examinei com maior atenção o meu entorno. A Lua, agora no zênite, brilhava intensamente, misteriosamente, sobre os penhascos abissais que ladeavam o abismo, revelando um extenso curso d’água que corria sinuoso em seu fundo até se perder de vista em ambas as direções e quase lambia meus pés enquanto eu estava ali, parado, na encosta. Do outro lado do vale, as leves ondulações da água roçavam a base do ciclópeo monólito, sobre cuja superfície eu podia agora distinguir inscrições e entalhes toscos. A escrita estava em um sistema de hieróglifos que eu não conhecia e que era diferente de tudo que eu já vira em livros, consistindo, me sua maior parte, de símbolos aquáticos estilizados como peixes, enguias, polvos, crustáceos, moluscos, baleias, coisas assim. Era patente que diversos caracteres representavam coisas marinhas desconhecidas do mundo moderno, mas cujas formas, em decomposição, eu havia observado na planície erguida do oceano.
Foram os entalhes decorativos, porém, que mais me extasiavam. Havia um arranjo de baixos-relevos, bem visível acima da água interposta por conta de seu enorme tamanho, cuja temática teria invocado a inveja de Doré. Imagino que aquelas coisas deviam supostamente ilustrar pessoas – ao menos um certo tipo de pessoas, embora as criaturas fossem mostradas divertindo-se como peixes nas águas de alguma gruta marinha ou venerando algum santuário em forma de monólito também ao que tudo indica submerso. De seus rostos e formas, não ouso falar com detalhes; sua mera lembrança me deixa aturdido. De um grotesco além da imaginação de um Poe ou de um Bulwer, tinham um perfil infernalmente humano apesar das mãos e apesar das mãos e pés palmados, dos lábios chocantemente largos e flácidos, dos olhos saltados e vítreos, e outras feições ainda menos agradáveis de se lembrar. O curioso é que pareciam ter sido cinzelados muito fora de proporção em relação ao cenário de fundo, pois uma das criaturas era mostrada no ato de matar uma baleia representada com um tamanho um pouco maior do que o seu, mas naquele momento eu achei que eram apenas os deuses imaginários de alguma tribo primitiva, navegante e pescadora, alguma tribo cujos derradeiros descendentes teriam parecido muitas eras antes do primeiro ancestral do Homem de Piltdown ou de Neanderthal haver nascido. Extasiado diante daquele inesperado vislumbre de um passado além da imaginação do mais ousado antropólogo, fiquei ali cismado enquanto a Lua provocava curiosos reflexos no plácido canal à minha frente.
Então, de repente, eu a vi. Com uma leve agitação para indicar sua subida à superfície, a coisa emergiu para fora s das águas escuras. Enorme, polifêmica e repugnante, ela disparou como um monstro fabuloso de um pesadelo para o monólito, ao redor do qual arrojou seus gigantescos brancos escamosos enquanto inclinava a cabeça horripilante, produzindo sons ritmados. Pensei ter enlouquecido, então.
De minha subida frenética da encosta e do penhasco, de minha delirante jornada de volta para o barco encalhado, pouco me recordo. Creio que cantei muito e ri como louco quando era incapaz de cantar. Tenho vagas recordações de uma grande tempestade algum tempo depois de alcançar o barco. De qualquer forma, sei que ouvi o ribombar de trovões e outros ruídos que a natureza produz somente em seus humores mais terríveis.
Quando sai das trevas, estava num hospital de San Francisco, para onde fora levado pelo capitão de um navio americano que recolhera meu barco no meio do oceano. Em meu delírio, falei muito, mas descobri que não deram muita atenção às minhas palavras. Meus salvadores não sabiam nada a respeito de alguma terra que houvesse aflorado no Pacífico, e eu não julguei necessário insistir em algo que sabia que eles não poderiam acreditar. Procurei certa vez um famoso etnólogo e o diverti com perguntas curiosas sobre a antiga lenda filistina de Dagon, o Deus-Peixe, mas, percebendo logo que ele era um racionalista incorrigível, não insisti nas perguntas.
É durante a noite, especialmente quando a lua está muito curva e minguante, que eu vejo a coisa. Tentei a morfina, mas a droga deu-me apenas um alívio temporário e arrastou-me para suas garras como um escravo sem esperança. Sim, tendo escrito um relato completo para a informação ou a desdenhosa diversão de meus semelhantes, agora pretendo acabar com tudo. Muitas vezes me pergunto se tudo não teria passado de pura fantasmagoria – uma simples fantasia febril enquanto eu jazia, castigado pelo sol e delirante, naquele barco descoberto depois de minha fuga do vaso de guerra alemão. Isso eu me pergunto, mas sempre me vem uma visão terrivelmente pavorosa em resposta. Não consigo pensar no mar profundo sem estremecer com as coisas inomináveis que podem, neste exato momento, estar arrastando-se e espoj ando-se em seu leito lamacento, adorando seus antigos ídolos de pedra e cinzelando à sua própria e detestável semelhança em obeliscos submarinos de granito encharcado. Sonho com o dia em que elas poderão ascender acima dos vagalhões para arrastar para o fundo, com suas garras fétidas, os remanescentes de uma humanidade debilitada, exaurida pela guerra – o dia em que a terra poderia afundar e o escuro leito do oceano erguer-se em meio a um pandemônio universal.
O fim está próximo. Ouço um ruído à porta, como se um imenso corpo viscoso a estivesse forçando. Ela não me encontrará. Deus, aquela mão! A janela! A janela!